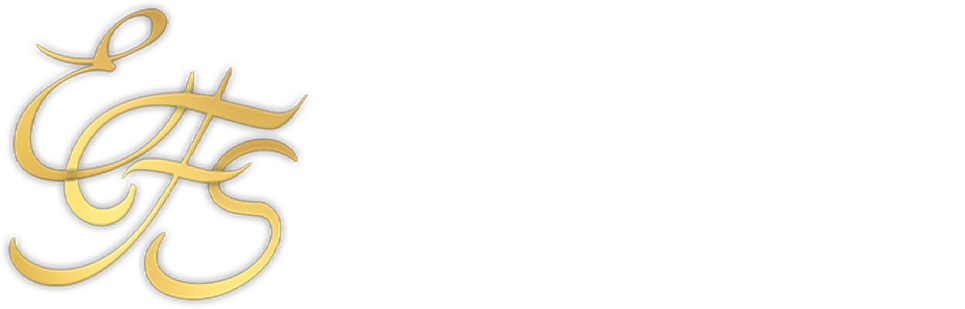Senadores apresentam PEC para garantir sustentação oral em todo o processo
14 de agosto de 2024Consensualidade no TCU: fundamentos, características, natureza e efeitos
14 de agosto de 2024Certamente você já ouviu a famosa expressão utilizada para se referir aos – aparentemente ilimitados – poderes das comissões parlamentares de inquérito: as CPIs podem muito, mas não podem tudo.
De fato, as CPIs detêm poder investigativo bastante amplo, introduzido pelo artigo 58, parágrafo terceiro, de nossa Carta Magna, que atribui às comissões “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.
A definição constitucional pode gerar confusão, já que a própria Constituição estabelece, também, em nosso ordenamento jurídico, o sistema acusatório — o qual, como bem se sabe, atribui ao juiz, única e exclusivamente, o papel de julgar, e não de investigar. À CPI, por outro lado, cabe apenas a tarefa de apurar — não tendo a comissão poderes decisórios.
Anacronismos à parte, é ponto pacífico na doutrina pátria que “os poderes exercitáveis pelas CPIs são amplos, mas não irrestritos”. Resta, então, entender quais os limites desses poderes. Até onde vai o “tudo” permitido às comissões parlamentares de inquérito?
A resposta reside na própria divisão de poderes do Estado Democrático de Direito — já que a comissão parlamentar é, como o próprio nome escancara, atividade própria do Poder Legislativo. Assim, a topografia democrática da tripartição de poderes, por si só, já delimita aqueles exercitáveis pelas comissões parlamentares – os quais devem se adequar e se ater ao quadro de atribuições do Legislativo, ao mesmo tempo em que respeitam aqueles ínsitos aos demais poderes da República.
Em outras palavras: os poderes investigatórios das CPIs têm o exato tamanho das competências do Congresso, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Nem mais, nem menos.
Isso significa, logo de largada, que ficam excluídos do âmbito de atribuições das CPIs atos de interesse exclusivamente privado – já que não é tarefa do Poder Legislativo imiscuir-se em fatos da vida privada dos particulares. Desse modo, a atuação da comissão deve permanecer adstrita à esfera do interesse público.
E, se as atribuições da CPI não podem extrapolar aquelas do Poder que a institui, tampouco podem invadir as de outros poderes.
Assim, é vedado à comissão parlamentar o exercício da função jurisdicional, já que, de acordo com a divisão de funções do Estado brasileiro, esta é conferida exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário, de modo que apenas estes têm competência para solucionar conflitos e resguardar – ou restringir – direitos.
É esse, de fato, um dos principais freios — e, talvez, o maior limite — aos poderes das comissões de inquérito: o princípio da reserva de jurisdição, segundo o qual, em síntese, os direitos e garantias protegidos constitucionalmente apenas podem ser limitados por decisão judicial, proferida por autoridade judiciária competente.
Por isso mesmo, “determinados atos inerentes à tarefa investigativa somente poderão ser tomados e decididos pela autoridade judicial e jamais pelo parlamentar na condição de membro da comissão parlamentar de inquérito”.
E é justamente aí que reside o nó górdio das atividades exercidas pelas comissões, já que as atividades investigativas empreendidas pelas comissões devem se revestir de efetividade.
Mas, afinal, como podem as CPIs efetivar seus poderes de investigação sem invadir as atribuições do Poder Judiciário? Podem as comissões implementar medidas investigativas – e potencialmente restritivas de direitos fundamentais – de per si, à revelia de decisão judicial?
A solução da questão passa, necessariamente, pela natureza da atividade de investigação a ser implementada pela comissão – já que, a nosso ver, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário decidir a respeito de questão que implique potencial limitação de direito fundamental.
É precisamente o que destaca Marta Saad, que frisa que “em vista da limitação dos poderes da Comissão Parlamentar aos de uma autoridade policial quando determinado direito fundamental está em jogo, tal como a liberdade ou a privacidade, somente a autoridade judicial poderá autorizar sua restrição, explicitando o motivo e os fundamentos da medida”.
A posição é compartilhada também pelo ministro Luís Roberto Barroso, para quem “os atos de intervenção na esfera individual, com proteção constitucional, tomados por comissão parlamentar de inquérito, deverão ser precedidos de determinação judicial”. Até porque – continua o autor – “seria insensato retirar bens e valores integrantes do elenco secular de direitos e garantias fundamentais do domínio da serena imparcialidade de juízes e tribunais, e arremetê-los para a fogueira das paixões politizadas da vida parlamentar”.
O entendimento, a nosso ver, é o que mais se coaduna com os princípios consagrados por nossa Carta Constitucional – segundo os quais a restrição a direito fundamental é apenas possível por meio de decisão imparcial e fundamentada, prolatada por autoridade judiciária competente.
Até porque, conforme bem lembra Fernanda Regina Vilares, “o Poder Judiciário é o único que possui competência para apreciar o cabimento de medidas restritivas de direito nesses termos, protegendo os direitos fundamentais e relativizando-os em face de outros bens constitucionalmente protegidos, como o interesse da investigação. Assim, o Judiciário é o único órgão dotado de imparcialidade para tal análise, pois outros órgãos como o Ministério Público e as Comissões Parlamentares de Inquérito têm interesse direto no resultado da empreitada, não sendo capazes de efetuar a devida ponderação dos princípios envolvidos”.
Conclui-se, portanto, que as comissões parlamentares só podem implementar, de forma autônoma, atos investigativos que não impliquem na restrição de direitos fundamentais. Caso a medida pretendida acarrete a limitação de direitos protegidos constitucionalmente — tais como o direito à privacidade, à intimidade, à liberdade de locomoção, ao sigilo telefônico e de dados, ao sigilo bancário, dentre outros —, apenas poderá ser implementada caso precedida de decisão judicial que a autorize.
Esse entendimento encontra eco na doutrina pátria.
Guilherme Rodrigues Abrão filia-se a ele, destacando que, em tais hipóteses, “cabe às comissões de inquérito apenas o requerimento – postulação – de certas medidas probatórias ao Poder Judiciário, competente para análise e eventual deferimento, notadamente aquelas que venham a restringir algum direito fundamental do acusado, investigado, suspeito, ou até mesmo da mera testemunha”.
Fernanda Regina Vilares segue a mesma linha, enumerando que, “além de não poder determinar interceptações telefônicas, busca domiciliar, condução coercitiva de testemunha e prisão, as Comissões Parlamentares de Inquérito também não podem efetuar a quebra de sigilo financeiro ou de outros dados, porquanto são situações submetidas à reserva de jurisdição”.
Conclusão
Assim, a bem da verdade, é possível concluir — partilhando do entendimento do ministro Luís Roberto Barroso – que “o sentido da expressão ‘poderes de investigação de autoridades judiciais’ é o de criar para a comissão parlamentar de inquérito o direito – ou, antes, o poder – de atribuir às suas determinações o caráter de imperatividade. Suas intimações, requisições e outros atos pertinentes à investigação devem ser cumpridos e, em caso de violação, ensejam o acionamento de meios coercitivos. Tais medidas, porém, não são auto-executáveis pela comissão. Como qualquer ato de intervenção na esfera individual, resguardada constitucionalmente, deverá ser precedida de determinação judicial”.
É possível arguir, portanto, ao fim e ao cabo – e considerando que a cláusula de reserva de jurisdição impede as CPIs de praticarem atos de competência exclusiva do Judiciário — que os poderes outorgados às comissões parlamentares se assemelham mais àqueles das autoridades policiais do que aos das autoridades judiciais – sob pena, inclusive, de responsabilização por abuso de poder.
Fonte: Conjur