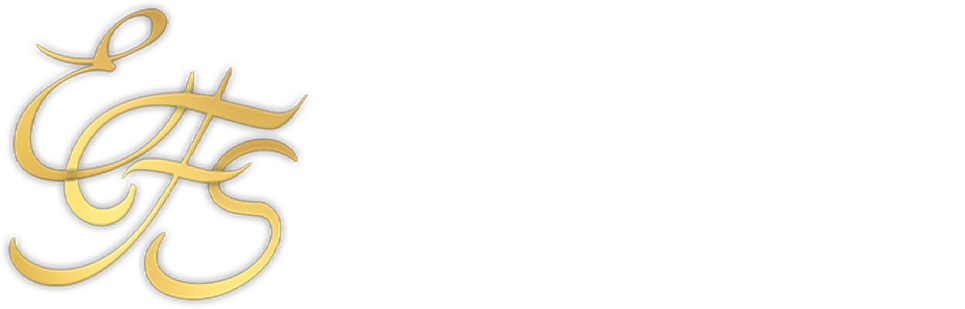Tributação, atração de investimentos, regionalização e guerra fiscal no IVA
16 de julho de 2024Aplicação da LGPD a contratos de seguro: o caso dos dados sensíveis
18 de julho de 2024Uma inverdade repetida mil vezes acaba adquirindo ares de verdade! Isso é o que algumas reportagens críticas à proposta apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a solução da dívida dos estados vêm fazendo. Usam o senso comum para, equivocadamente, afirmar que se trata de um “prêmio para estados endividados”. Da mesma forma, a defesa trazida pela AGU (Advocacia Geral da União) ao STF (Supremo Tribunal Federal), afirmando que Minas Gerais deveria voltar a pagar a dívida com o governo federal “sob pena de se quebrar a isonomia com outros entes federativos” é anacrônica, esconde a realidade e é prejudicial para o povo brasileiro.
Certos mesmo estavam os ministros Luís Barroso e Gilmar Mendes quando afirmaram, na ADO 25, que o Brasil vive uma “crise do federalismo fiscal”, que decorre não apenas da crise econômica do momento e da falta de responsabilidade fiscal dos estados, mas, sobretudo, das políticas tributárias da União que privilegiaram as contribuições sociais em lugar dos impostos que seriam compartilhados com os estados, das inúmeras desonerações de tributos federais em relação aos quais os estados teriam participação e da falta de regulamentação da situação de desoneração do ICMS nas exportações. Como bem afirmou o ministro Barroso, “criou-se um modelo em que os estados perdem quase sempre”.
No artigo 1º da Constituição de 1988, vem estampado que a “República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de Direito”. O vocábulo “união”, com letra minúscula, esclarece que esse ente é, antes de tudo, a junção de estados, DF e municípios, e não um centro autorreferente de poder. Isso jamais agradou aos agentes políticos federais e muito menos a tecnoburocracia da União, que jamais abandonou sua herança ditatorial. A realidade é que o princípio federativo, desde 1988, vem sofrendo ataques contínuos do poder central.
No modelo federal, os estados devem ter os meios financeiros próprios para atuar (autonomia financeira). Essa posição emancipatória não se coaduna com a “política do pires na mão”, muito usada pelos governos autocráticos para submeter os gestores estaduais. Não existe atuação independente sem “autonomia financeira”, de maneira que instituições dependentes jamais constituirão “poderes”. Sem autonomia financeira, ocorre a concentração do poder, daí, cria-se um ambiente favorável à tirania, sobretudo em um regime presidencialista.
Para assegurar a “autonomia financeira” necessária, a Constituição de 1988 estabeleceu não apenas uma detalhada distribuição de competências tributárias entre os entes federados (nos artigos 153 a 156), como também a repartição obrigatória da receita proveniente de impostos federais. Nesse sentido, são dos estados, do DF e dos municípios uma parte dos recursos provenientes do imposto de renda (50%), do IPI (60%), do IOF e do ITR, sendo que até mesmo parcela dos impostos residuais (20%) que vierem a ser criados deve ser transferida para os entes menores. Além disso, parte da Cide combustível (29%) deve também ser repartida. Apenas os impostos federais de finalidade extrafiscal é que não são compartilhados.
Todo esse desenho federal foi pensado para possibilitar o cumprimento das funções constitucionais de cada ente e garantir sua autonomia financeira. Assim, a deturpação na divisão de competências e a centralização de recursos na União ofendem ao princípio federativo, sobretudo porque o desequilíbrio do “pacto federativo” em termos de repartição de recursos financeiros acaba por favorecer a subordinação do ente federado à União. Medidas que ofendam a “autonomia financeira” dos entes menores ou que promovam “desequilíbrio federativo” corrompem a arquitetura constitucional e corroem o sistema federalista, portanto, são inconstitucionais.
Enfim, o “equilíbrio federativo” evita a submissão dos estados e municípios pelo viés financeiro e reclama a atribuição dos recursos necessários para que cada ente cumpra seus deveres constitucionais sem depender dos favores do ente central.
Entretanto, como afirmou o ministro Luís Barroso, na ACO 2178, publicada em março de 2023, “o federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, relator ministro Gilmar Mendes, j. em 30/11/2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos estados com a União”. Esse quadro desenhado pelo ministro espelha a realidade.
Com o intuito de aumentar a arrecadação federal sem repartir receitas, a União utilizou-se abusiva e desmedidamente das contribuições especiais, porque a receita desses tributos federais não é compartilhada com os estados e municípios. Em um movimento de “fraude” à arquitetura constitucional, as contribuições especiais passaram a ser utilizadas como principal mecanismo de incremento da receita federal, sem o compartilhamento com os entes menores. Por isso, elas já representam hoje a maior parte dos valores arrecadados pela União.
A cada ano os estados vêm sofrendo perdas significativas em suas “transferências constitucionais obrigatórias”, haja vista a migração da arrecadação federal para os tributos não compartilhados. Com essa manobra, o governo federal diminuiu a participação daqueles entes na partilha de sua arrecadação. Em 1988, a arrecadação oriunda do IR e do IPI somava 76,2% do total da arrecadação da União, e as contribuições e outras receitas administradas pela Receita Federal somavam 23,8%. Já em 2010, o IR e o IPI representavam apenas 45,5% enquanto as contribuições, somadas a outras receitas administradas, alcançaram 54,5% do total da arrecadação federal. Hoje, as contribuições já respondem por mais de dois terços da arrecadação federal.
Não se discute o poder de instituir contribuições especiais, mas essa espécie de “desvio de poder” é uma “fraude à Constituição”. Não se admite a instituição de um “sistema tributário paralelo” de arrecadação que possa, lenta e gradualmente, corroer o “equilíbrio federativo”. Essa prática antijurídica vem proporcionando um “desequilíbrio de forças”, deturpando o sistema constitucional tributário, tornando-o disfuncional, complexo e ineficiente.
A União seguidamente desonerou tributos federais que deveriam ser compartilhados com os estados (como no caso do IPI da chamada “linha branca”). Da mesma forma, criou a tal a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), que, em verdade, nada mais é do que um “imposto de rendas paralelo” não compartilhado com os entes menores. Ainda em 1988, para contornar a recém-publicada Constituição, para que se pudesse instituir a CSLL com uma alíquota de 8%, promoveu uma redução da alíquota do imposto de rendas em 5%.
Os entes menores, dessa forma, financiaram parcialmente, com recursos que deveriam ser partilhados a título de IRPJ, a criação da CSLL (de receita puramente federal)! Absurdamente, o repasse aos estados e municípios foi reduzido para que se pudesse incrementar a receita da União. Houve, na verdade, uma “fraudulenta” manobra de incremento da receita federal que afetou o “equilíbrio federativo”, promovendo a concentração ainda maior de recursos financeiros na União.
Além da criação desse “imposto de rendas fake”, a União alargou a incidência dos seus “impostos sobre o consumo” quando criou contribuições sociais incidentes sobre a receita (e não compartilhadas com os Estados) e instituiu um “verdadeiro ICMS federal” (PIS e Cofins não cumulativa). Portanto, além de não compensar os estados, DF e municípios pela perda da receita em razão da desoneração das exportações (da chamada Lei Kandir), a União invadiu a principal materialidade dos tributos estaduais (ICMS).
Nessa mesma toada, a Desvinculação de Receitas da União (DRU) permitiu, por décadas, ao ente central utilizar o montante arrecadado a título de contribuição para fins diversos daqueles que justificaram a instituição do tributo. Dessa maneira, a União arrecadou trilhões de reais e os aplicou em gastos correntes do Tesouro Nacional. Nesse compasso, mais uma vez, viu-se essa espécie de “fraude à Constituição”, porque os tributos que se justificavam pela necessidade de recursos para uma finalidade (seguridade social) eram utilizados para outra.
De “ilícios atípicos” em “ilícitos atípicos” a arquitetura constitucional e o modelo federal foram sendo gradativamente fraudados e a “crise do federalismo brasileiro” agravada.
É nesse cenário que a União insiste em cobrar a dívida dos estados sem considerar o “desequilíbrio federativo” que promoveu. Escudada pelo argumento falacioso de que deve tratar os entes federados com isonomia, a burocracia federal sequer é capaz de entender que o desequilíbrio proporcionado pelas sucessivas manobras de centralização de recursos atingiu de forma diferenciada os entes menores, sobretudo aqueles exportadores de commodities, que além de não poderem contar com seu principal tributo (ICMS), muitas vezes têm de assumir os créditos dos insumos provenientes de outros estados.
A propósito, se a União já centraliza mais de 68% da receita tributária (da arrecadação total, os estados respondem por apenas 25% e os municípios por 7%), aos entes menores cabem, cada vez mais, as despesas com saúde, com educação e com segurança. Hoje em dia, a União gasta, por exemplo, apenas 4% a 5% de seu orçamento com saúde. Nos gastos com o Sistema Único de Saúde, a princípio, a União participava com mais de 50% das despesas (2000) e, hoje, com menos de 35% (dados de 2022). Os gastos foram sendo pouco a pouco repassados para estados e municípios.
Assim, do gasto total com saúde, no Brasil, 32% são da União; 27% dos estados e 41% dos municípios. Indevidamente, se a União tem 68% da receita tributária total, são os entes subnacionais que assumem cerca de 68% dos gastos com saúde! Com relação aos gastos com educação (dados de 2021), cerca de 42% estão a cargo dos municípios; 30% com os estados e 28% com a União. Os gastos com segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Sistema Prisional), basicamente, ficam a cargo dos estados (82% com os estados).
Por mais que possa ter havido, no passado, real “irresponsabilidade fiscal dos Estados”, esse quadro de crise se deve, antes de tudo, à “participação decisiva da União”, como pontuado pelo próprio STF. A diminuição da arrecadação dos Estados causada pela substituição de tributos compartilhados por contribuições especiais, somada à cobrança de uma dívida inexistente com a União (porque por ela foi agravada) impedem a concretização dos mandamentos constitucionais e desfiguram o desenho federalista, que pressupõe a autonomia financeira estadual e municipal.
Nessa questão da dívida, tem-se a União em um polo e os estados e municípios no outro. Ambos os lados precisam dos recursos para atenderem suas finalidades igualmente públicas. Se a União precisa de recursos (públicos), os estados, sobretudo os que foram lesados por décadas por essa política tributária e financeira antifederalista, precisam de muito mais para manterem suas escolas, hospitais, polícias, presídios etc. E, à propósito, é nos ombros dos entes menores que essas despesas, em sua maior parte, estão.
O que precisa ser feito é a correta repartição das receitas tributárias entre entes igualmente públicos. Curiosamente, estados como Minas Gerais, que foram lesados, são os que mais necessitam desses recursos públicos para atenderem seus cidadãos. É próximo aos cidadãos que os recursos públicos devem preferencialmente estar.
Os recursos que foram retirados dos Estados, como os relativos à CSLL, na verdade, voltam alocados seguindo determinações arbitrárias do governo federal por meio de “transferências voluntárias”, que se tornaram cada vez mais costumeiras. Se a União minimizou a autonomia financeira dos entes subnacionais, por outro giro, usa e abusa desses recursos para fazer a política do “pires na mão”.
Na verdade, o que a proposta do senador acaba fazendo é favorecer a redução do dinheiro distribuído politicamente pela União aos apaniguados ou aos governadores e prefeitos aliados e submissos (política do “pires na mão”), bem como minimizar os mecanismos similares ao “orçamento secreto”.
Afinal, as propostas trazidas de redução da dívida dos estados não são paternalistas, mas medidas que reduzem o “desequilíbrio” proporcionado pela própria política tributária e financeira da União ao longo das últimas décadas. São medidas democráticas e de justiça.