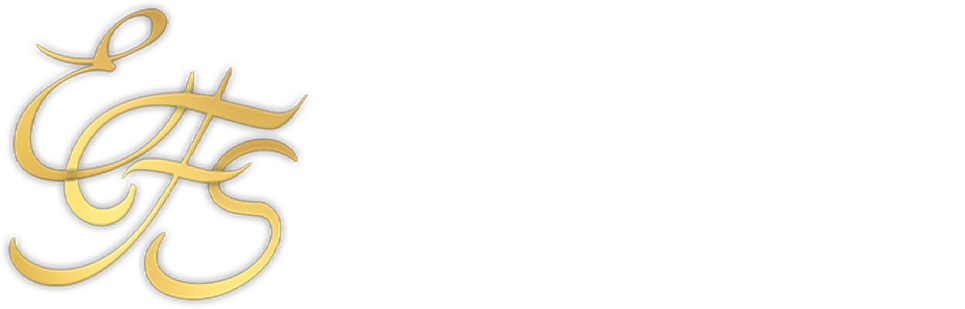Coisa julgada e restituição de juros sobre tarifas bancárias inválidas
8 de julho de 2024Lei 14.133/2021: DFD para contratações diretas nos municípios
10 de julho de 2024Passou a viger entre nós a Lei 14.905/24 que alterou as redações dos artigos 389, 406, 407, 417, 418 e 772 do Código Civil, bem como reduziu a aplicabilidade do Decreto 22.626/33, norma especial que veda a prática de usura nos contratos. Estamos diante novo capítulo na tentativa de “regular” institutos hipercomplexos como “juros” e “correção monetária” no Brasil e que, em alguns aspectos, mais prejudica do que avança.
Trata-se, na origem, do PL 6.233/2023, de autoria do Poder Executivo Federal, objetivando aplicação modificada dos juros nas relações jurídicas no país. Matéria espinhosa, no campo das obrigações, porque não está afeta tão somente ao direito, mas igualmente à economia e a tão almejada “segurança jurídica” exigida pelo mercado, com reflexos para toda sociedade. Não podemos esquecer, todavia, que todas as ciências envolvidas (política, direito e economia, especialmente) derivam exclusivamente da ética.
Na mensagem de encaminhamento ao Congresso, os autores da iniciativa legislativa advertiram quanto à necessidade de definição “clara” sobre taxa legal de juros para uniformização das decisões do Poder Judiciário, mesmo porque notória a ausência de consenso nas decisões judiciais quanto à aplicação da anterior disposição do artigo 406 do Código Civil, agora já alterado.
Na menção dos proponentes, referido dispositivo, ao vincular os juros à taxa de mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública, propiciou verdadeira clivagem ao Judiciário: ou se aplicando a Selic, nos termos do artigo 13 da Lei 9.065/95 e § 4º do artigo 39 da Lei nº 9.250/1995; ou utilizando a taxa de 1% ao mês, prevista no §1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Para abstrair da Selic, a iniciativa apresentou a seguinte proposta a respeito da taxa legal: “§ 1º A taxa legal corresponderá à média aritmética simples das taxas para o prazo de cinco anos da estrutura a termo da taxa de juros real das Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, apuradas diariamente, dos doze meses que antecedem a sua definição, acrescida de cinco décimos por cento ao mês”.
A proposição, na base, não aliviou. Se era para proporcionar clareza e objetividade às obrigações civis apresentou ‘métrica’ de redação obscura e longe desse escopo na apuração da taxa legal para os juros moratórios, com difícil acompanhamento e quase nenhuma sindicabilidade pelos envolvidos. Num país com milhões de pessoas que interagem através de relações jurídicas privadas, de variadas condições sociais e níveis diferenciados de cognoscibilidade, a redação chega a ser acintosa.
Também é de destacar que igualmente nas razões da iniciativa legislativa, consta textualmente que os mencionados índices alternativamente utilizados pelo Judiciário não favorecem ao “credor” e nem mesmo ao “mercado”. Portanto, “a lei de juros” deixou de lado o princípio “favor debitoris”.
Qual, no entanto, é a surpresa quando da aprovação do projeto. A Lei 14.905/24 trouxe para a legislação (diga-se, para o “macrossistema” do Código Civil) a introdução do parágrafo primeiro no artigo 406 redefinindo a taxa legal como aquela “referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária”. E nesse propósito, foi acrescido ao artigo 389 parágrafo único que vincula a correção monetária à “variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, caso não outra legislação específica ou índice convencionado pelas partes.
Enfim, a causa subjacente do projeto de lei que era exatamente a ausência de uniformização, inclusive pela utilização da Selic, assim como a insuficiência desse índice para atendimento ao mercado e ao credor, num passe de mágica tomou outro rumo, outra “valoração”. De rejeitada, a Selic passou a ser a opção, estorvando o argumento de ingresso.
Observe que os já conhecidos brados de exigência de “segurança jurídica” cada vez mais presentes nas férreas leis econômicas não são muito ‘seguros’, porque a iniciativa fulcrada “para resolver o problema”, adotou o “problema como resolução”. Parodiando Windscheid quanto à “pressuposição” na revisão dos contratos, mas substituindo-a pela Selic: “expulsa pela porta, voltará pela janela”.
Eis séria questão do sistema político nacional nos últimos anos: o desvio finalístico da teoria da confiança (esfera subjetiva) e da boa-fé (perspectiva objetiva) quando das iniciativas legislativas. As legítimas expectativas lançadas quanto a determinado projeto de lei para auxiliar na decidibilidade frente aos “dramas humanos” é fugidia. É como se deduz de necessária doutrina:
“Os cidadãos têm direito à proteção da confiança, da confiança que podem pôr nos atos do poder político que contendam com suas esferas jurídicas. E o Estado fica vinculado a um dever de boa-fé (ou seja, de cumprimento substantivo, e não meramente formal, das normas e de lealdade e respeito pelos particulares).”
Enquanto o Código Civil de 1916 pré-fixava a taxa de juros moratórios, quando não convencionada pelas partes, em 6% ao ano (artigo 1.062), com a possibilidade máxima de 12% ao ano, nos termos do artigo 1º e 5º do Decreto 22.626/33, o Código Civil atual, antes da vigência em 2003, tomou cuidado em atrelar os juros das obrigações civis à taxa que estivesse em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
Na época era consenso ser ideal, ao invés de fixar a taxa legal, atrelá-la a índices governamentais porque se aproximariam às evoluções fiscais já sedimentadas, conhecidas e previstas no ordenamento. Contudo, o fizeram não levando em consideração a Selic, senão o Código Tributário Nacional, no artigo 161, § 1º, que até a presente data está em vigência.
A Selic para muitos é inadequada, por questões tanto relativas à ilegalidade como inconstitucionalidade, sem prejuízo de dois severos problemas: contém no conteúdo a abrangência à correção monetária e é bastante flutuante.
Quanto à primeira questão, permitida a Selic , haverá “bis in idem” sobre o saldo a pagar pelo devedor em mora, pois o texto legal remete a juros, correção monetária e honorários de advogado. Nesta situação, utilizada como régua para apuração dos juros, a Selic alberga consigo a correção monetária que é rubrica a ser considerada.
É verdade que a nova redação ao artigo 406, para escolha da Selic, consignou a dedução do índice de ‘atualização monetária’ de que trata o parágrafo único do artigo 389. Entretanto, a pretendida clareza que era objeto da legislação não se verá cumprida, pois os obrigados deverão lançar mão a cálculos financeiros para apuração, com sérias perspectivas de dúvidas.
O que claudica, todavia, demasiado contra a “segurança jurídica” é justamente a característica de ‘flutuação’ da Selic. É que referida taxa, na realidade, serve como ferramenta para o cenário macroeconômico, estando afinada com as intervenções que o Estado (ordem pública de orientação) deve fazer para controle inflacionário, de recessão e riscos, podendo variar de modo “majorado” ou “minorado”, mas sempre com intensa movimentação. A doutrina especializada confere:
“Em suma, o uso da taxa Selic para o proposito em analise é de todo inconveniente, pois imprecisa e flutuante para atuar em relações civis, subtraindo qualquer sorte de previsibilidade.”
No Código Civil, enquanto os artigos 389, 395, 404, 406, 407, 418 e 772 versam sobre juros moratórios, os artigos 591, 677, 706 e 869 disciplinam os juros compensatórios. As modificações acabam atingindo ambas as modalidades, mesmo porque cumuláveis, dadas as naturezas diversas, salvante vedações havidas em leis especiais. Há a favor da alteração, ao menos em parte, as decisões das cortes superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, como no repetitivo afetado pelo Tema 112.
Contudo, um plus deve ser enfrentado: a desafetação da Lei de Usura quanto a inúmeras relações jurídicas. Neste ponto, mesmo que os juros representem a “remuneração” para aquele que ficou sem a utilização monetária por certo período temporal em razão de empréstimo a terceiro, não caberia retirar a tutela jurídica.
A legislação de combate à usura, mesmo que projetada para época tão diferente do quadro socioeconômico nacional atual, não perdeu relevante contribuição para concreção da “justiça contratual”. Não apenas tem valor “simbólico” pela estatura ética em censurar comportamentos lucrativos desprovidos de transparência e equivalência, como ainda notável projeção de solidariedade para estancar situações de aproveitamento.
Basta perceber que mencionada legislação veda a estipulação, em quaisquer contratos, de taxas de juros superiores ao “dobro” da taxa legal (artigo 1º). Ou trata como delito a simulação ou prática tendente a ‘ocultar’ a verdadeira taxa do juro ou a fraudá-la, para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no respectivo título ou instrumento (artigo 13). A primeira, clara hipótese abuso. A segunda punição à fraude ou à prevaricação quanto ao dever de informar.
Como se percebe, a Lei 14.905/24, no artigo 3º, retira a eficácia do Decreto 22.626/33 nas seguintes obrigações: i – contratadas entre pessoas jurídicas; ii – representadas por títulos de crédito ou valores mobiliários; iii – contraídas perante: a) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central; b) fundos ou clubes de investimento; c) sociedades de arrendamento mercantil e empresas simples de crédito; d) organizações da sociedade civil de interesse público de que se dedicam à concessão de crédito; ou iv – realizadas nos mercados financeiro, de capitais ou de valores mobiliários.
Os critérios para inaplicabilidade da Lei de Usura são subjetivos e funcionais. As obrigações derivadas de relações entre pessoas jurídicas ficaram sem proteção legal, ao passo que aquelas caracterizadas pela utilização de crédito bancário ou financeiro estariam fora da esfera de abrigo. Preocupante supressão.
Os “critérios funcionais” para o afrouxamento protetivo em parte encontram abrigo na Súmula — STF 596 [10], todavia em relação aos ‘critérios subjetivos’, desde já se anote certa perplexidade. Mesmo nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas há necessidade de tutela, sendo incabível desprezar a proteção ou o estabelecimento de garantias para prevenir ou precaver prejuízos maiores, como a insolvência e recuperação judicial.
O fato de os celebrantes serem pessoas jurídicas, provocam, grosso modo, três observações inquietantes. A primeira, referente ao fenômeno da “pejotização” da maioria das atividades singulares e não propriamente coletivas: na realidade, são pessoas naturais inscritas em CNPJs justamente para ter acesso a realocações no mercado, na tentativa de vida digna, precarizando os vínculos trabalhistas no Brasil. Hoje são quase treze milhões de interessados desassistidos. Certamente engrossarão a fila de superendividados.
A segunda, relaciona-se com as pessoas jurídicas de pequeno porte, geralmente empresas de subsistência do núcleo familiar ou caracterizadas estritamente pela vulnerabilidade e o abuso de posição dominante de forte agente econômico, o que aliás, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a verificabilidade da teoria do finalismo aprofundado. Igualmente sem proteção contra a usura.
A terceira: a lei nada arrematou sobre os efeitos externos e reflexos do contrato, pois a ausência de proteção contra usura, mesmo em contratos empresariais, acarreta situações de empobrecimento e exclusão que extravasam o interesse das partes.
Registre-se, por questão metodológica, que com a tramitação dos trabalhos para atualização do Código Civil, não fazia sentido a aprovação de lei modificativa isolada e distante do contexto geral representativo do macrossistema. Vivemos um momento legislativo a técnico e desfocado da realidade desigual brasileira exigente do retorno de um “constitucionalismo das necessidades”.