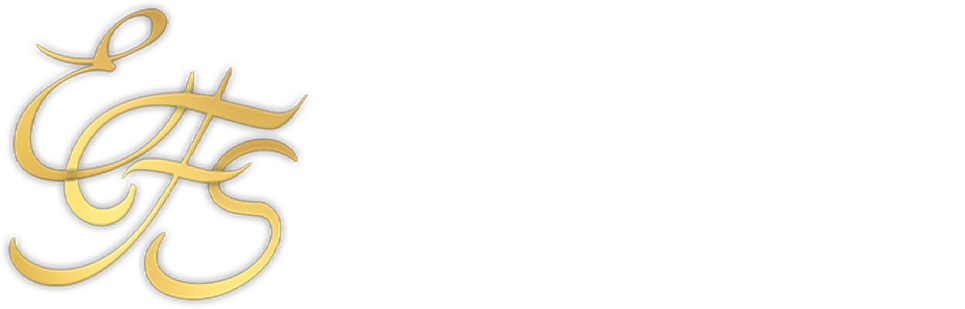JUSTIÇA DE SÃO PAULO DETERMINA QUE O MUNICIPIO AUTORIZE A EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
9 de fevereiro de 2024
Por que Rússia deve crescer mais do que todos os países desenvolvidos, apesar de guerra e sanções, segundo o FMI
18 de abril de 2024Fazer parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o clube que reúne desde os anos 60 as maiores economias do mundo, foi durante muito tempo uma aspiração brasileira, rejeitada pelo grupo. Hoje, é a OCDE, ainda considerada por muitos o “clube dos ricos”, apesar da presença de países em desenvolvimento como o México, que corteja o Brasil. Agora, quem não tem interesse numa adesão é o governo brasileiro.
Em 2007, a OCDE, cuja sede fica em Paris, lançou uma iniciativa, batizada de “enhanced engagement” (engajamento ampliado), para estimular a adesão de cinco países a seus quadros – além do Brasil, China, Índia, África do Sul e Indonésia. O grupo ficou logo conhecido como o E-5. A preocupação da instituição é com a própria sobrevivência. “Nós vimos que a OCDE não continuará a ser relevante sem a participação desses cinco países”, reconheceu um embaixador da organização que pediu para ficar no anonimato.
A percepção decorre do fato de que, nos últimos anos, países emergentes como Brasil, China, Índia e Rússia (o grupo Bric) cresceram rapidamente e, hoje, detêm uma parcela significativa do PIB mundial. No conceito de Paridade do Poder de Compra (PPP, na sigla em inglês), a China já é a segunda maior economia do planeta, a Índia é a quinta, a Rússia a oitava e o Brasil, a 10ª . Apesar disso, os quatro países não integram a OCDE.
Juntas, as 30 economias da OCDE têm uma população total de 1,175 bilhão e respondem por um PIB de US$ 38,282 trilhões. Já o E-5 tem 2,985 bilhões de habitantes – quase metade da população mundial – e PIB de US$ 14,462 trilhões, equivalente a 38% da riqueza da OCDE. Dos Bric, a Rússia é o único país que já está negociando seu ingresso na organização, ao lado de outras quatro nações em desenvolvimento – Chile, Estônia, Israel e Eslovênia.
“O engajamento dos cinco países (do E-5) é uma prioridade, não há dúvida sobre isso”, assinalou um funcionário graduado da OCDE. A recíproca não é verdadeira. “Nenhum dos cinco países manifestou interesse em ser membro da OCDE”, informou Eric Burgeat, diretor do centro de cooperação com países não-membros da instituição.
No caso brasileiro, a mudança de interesse é recente. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o país se aproximou bastante da OCDE. No início, era membro apenas do Centro de Desenvolvimento da instituição, mas, ao longo dos anos, passou a fazer parte de inúmeros comitês e grupos de trabalho. O ponto alto do período de aproximação ocorreu em 2000, quando o governo brasileiro assinou a Convenção de Combate à Corrupção de Autoridades Estrangeiras, uma convenção inspirada na lei americana que combate esse tipo de fraude.
No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o interesse por uma aproximação com a OCDE continuou forte no Ministério da Fazenda, mas não no Itamaraty. A equipe da Fazenda acreditava que o ingresso na OCDE daria ao país um selo de qualidade que, em última instância, facilitaria a concessão, pelas agências de classificação de risco, do grau de investimento. Além disso, asseguraria ao Brasil um assento num fórum econômico que estabelece regras na economia mundial, cria padrões de comportamento em várias áreas e influencia nas negociações de outras instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC).
“Há uma percepção no mercado de que os países da OCDE seguem boas políticas”, sustenta Eric Burgeat. “A OCDE é um bom lugar para se ter bons conselhos e uma abordagem rigorosa das políticas. Trata-se de um acesso sem paralelo a boas ideias. A organização ajuda os governos a defenderem seus pontos de vista no debate interno”, acrescenta uma autoridade da instituição. Burgeat rejeita a pecha de “clube dos ricos” ainda atribuída à organização onde trabalha. “Prefiro ver a OCDE como um clube de reformistas.”
Pelo menos um dos aspectos que motivavam o interesse brasileiro em ser membro da OCDE perdeu o sentido. A economia brasileira conquistou em 2008 o grau de investimento. “Esse selo valeria mais nos anos 90”, diz um assessor do governo. Ninguém questiona o fato de que, ainda assim, participar da organização agregaria valor à imagem do país perante os mercados, mas o que se alega hoje, em Brasília, é que a crise financeira internacional, originada nos Estados Unidos e em outras economias avançadas, teria desmoralizado o receituário econômico dos países ricos.
“A crise surgiu na OCDE e é resultado do modelo ultraliberal de desregulamentação das economias. Por que vamos aderir a uma instituição cujas receitas levaram à crise?”, indaga um assessor graduado do governo. Segundo essa fonte, será preciso ver a resposta dos países ricos à crise daqui em diante, especialmente, o que diz respeito à supervisão dos sistemas financeiros. “Não temos pressa”, diz o assessor.
Na visão do governo brasileiro, não há consenso hoje na OCDE sobre a definição de uma estratégia de saída para a crise. O Estado voltou a ocupar espaço importante nas economias e a dúvida é se ele vai se retirar em algum momento para que a economia volte a ter o dinamismo que tinha antes da crise. “Lá dentro da OCDE, tem gente advogando que a resposta seja ‘business as usual'”, observa um assessor, referindo-se à possibilidade de o pensamento liberalizante voltar a reinar com o fim da crise.
Não é apenas a crise econômica que separa o Brasil da OCDE. Na verdade, há razões políticas e questões específicas, relacionadas a exigências que a organização faz a seus membros e aos não-membros que assinam suas convenções, que dificultam uma associação. Funcionários graduados da organização disseram ao Valor que, do lado brasileiro, a principal resistência ao ingresso do Brasil na organização é de natureza política e está localizada no Ministério das Relações Exteriores. “Ainda não é conveniente para o Brasil se aproximar da OCDE”, confirma um diplomata brasileiro.
Nos últimos anos, o Itamaraty assumiu o controle do relacionamento dos diversos órgãos públicos federais com a OCDE. Em 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto dando ao Itamaraty a prerrogativa de fazer isso. Foi uma forma de evitar que entidades do governo federal avancem o sinal, na relação com aquela instituição, desrespeitando as diretrizes gerais da política externa brasileira.
Embora não integre oficialmente os quadros da OCDE, o Brasil tem uma intensa relação com o organismo em termos de cooperação técnica. Nada menos que 32 órgãos públicos – 16 ministérios e 16 autarquias – participam de comitês, grupos de trabalho e forças-tarefas da organização. Em fevereiro deste ano, por exemplo, a pedido da Casa Civil, a OCDE organizou seminário, em Brasília, para debater experiências internacionais de monitoramento das agências reguladoras.
O Brasil é o único país da América do Sul que participa do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) da OCDE desde a sua primeira aplicação, em 2000. “Procuramos manter diálogo com as áreas que consideramos produtivas”, diz um assessor do governo. “O Brasil procura de forma sistemática todas as áreas da OCDE. Isto sugere que existe uma relação séria, mas acho que tornar-se membro é algo que o Brasil vai procurar fazer com cuidado”, pondera um alto funcionário da instituição.
No plano político, a oposição do governo à OCDE, liderada pelo Itamaraty, argumenta que há obstáculos à adesão do Brasil. Um deles está na área energética. Um diplomata alega que, em relação a esse tema, prevalece na OCDE a questão da mudança climática. Segundo essa visão, a OCDE estabelece limites para a emissão de gases do efeito estufa que limitam o desenvolvimento industrial de países emergentes como o Brasil. Esses limites são fixados a partir do ano-base 1990, uma forma, segundo um diplomata, de beneficiar as nações já industrializadas. “O problema que afeta o clima não começou em 1990”, ironiza um assessor do governo.
O Itamaraty questiona também a efetividade da ajuda dada pelos países da OCDE a nações pobres, no âmbito da assistência oficial ao desenvolvimento (ODA, na sigla em inglês). “O Brasil pratica a cooperação Sul-Sul sem a imposição de condicionalidades”, sustenta um diplomata. Um assessor graduado do Ministério da Fazenda disse ao Valor que não há, na área econômica, “resistência ideológica”. O problema está na área tributária.